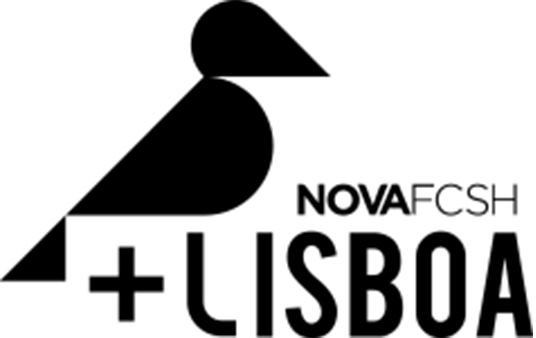Desde o primeiro número que o Diário de Lisboa anunciava uma longa vida dedicada a ser o primeiro, inegavelmente, na cultura.
O primeiro número, lançado numa quinta-feira, a 7 de abril de 1921, antecipava o papel que as artes iriam ter no Diário de Lisboa, numa altura em que a cidade passava por um misto de emoções: descomprimia da Grande Guerra, abrindo a sua noite aos clubes noturnos, que se instalaram na Rua das Portas de Santo Antão; expandia-se pelas Avenidas Novas, com novas referências urbanísticas; e, ao mesmo tempo, a famosa Geração d’Orpheu modernizava as artes e a cultura.
Não é de espantar, por isso, que metade das oito páginas desse número relevassem as artes. A secção Cidade trazia, na página quatro, o primeiro número do folhetim O Esconjuro, uma novela de Aquilino Ribeiro, que se estendia pela seguinte, a par com um artigo sobre a poetisa Virgínia Vitorino, escrito por Fernanda de Castro.
Porém, a marca artística mais importante desse número inaugural encontrava-se na página três: era totalmente dedicada à Rua do Oiro, com um poema de António Ferro e desenhos de Almada Negreiros. O texto relatava o frenesim daquela rua e aludia aos bailes russos, um dos maiores exemplos do modernismo para os modernistas. Tinham atuado em Lisboa, no Coliseu dos Recreios, em dezembro de 1917, e no Teatro São Carlos, em janeiro de 1918. Almada publicara inclusive um manifesto sobre a sua vinda no único número da revista Portugal Futurista, revela a historiadora Maria João Castro, num estudo sobre a influência dos ballets russos na sua obra.
Aliás, Almada – e tudo o que ele representou para o futuro de diversas artes – foi presença habitual no Diário de Lisboa: desenhou, escreveu, desabafou e chorou. Foi neste vespertino que desenhou Charlie Chaplin e no texto sobre esta personagem, na edição de 11 de maio de 1921, intitulou o Diário de Lisboa de “jornal amigo”, porque lhe permitia falar publicamente.
Foi neste jornal que, a 4 de maio de 1925, partilhou a sua ira numa discussão com o maestro Ruy Coelho sobre o bailado “Princesa dos Sapatos de Ferro”, que coreografara, inspirado nos bailados russos. Foi neste jornal que, a 25 de novembro de 1932, colocou “um ponto no i do futurismo”, ao criticar a postura de Marinetti na visita a Lisboa, e apelidou António Ferro de inimigo do futurismo. Foi neste jornal que, no mesmo ano de 1935, escreveu sobre o vigésimo aniversário da revista Orpheu, a 8 de março, e que co-assinou o obituário de Fernando Pessoa e desenhou um dos seus retratos mais conhecidos, publicados a 6 de dezembro.

Não é preciso muito mais para justificar o olhar editorial pioneiro que o Diário de Lisboa teve nas artes visuais e na literatura, desde a página Vida Literária que saía às terças-feiras em 1927, ao suplemento literário que viveu na década de 1930 – o Diário teria muitos suplementos literários (ou literários e artísticos) até 1990. Por eles passaram nomes tão sonantes, que, para a lista não ficar injustamente curta ou inconcebivelmente longa, basta mencionar Fernando Pessoa ou o único Nobel da Literatura que Portugal arrecadou até ao momento.
É também curioso como alguns desses nomes da cultura se estrearam no suplemento Diário de Lisboa Juvenil, também ele pioneiro na forma como envolveu uma comunidade de leitores jovens (hoje tão afastada dos jornais), na década de 1960. Foram os casos de José Jorge Letria, Alice Vieira, Eduardo Prado Coelho, João César Monteiro ou Luís Miguel Cintra.
Foi também neste vespertino que nasceu a primeira página exclusivamente dedicada ao cinema, às quartas-feiras, a partir de 12 de outubro de 1927, com o título O claro-escuro animado / Arte Cinematográfica, a cargo de António Lopes Ribeiro, um dos primeiros críticos de cinema em Portugal (assinava com o pseudónimo de Retardador). A página continha um artigo central, e críticas aos filmes em exibição nos cinemas da época, como Tivoli, Politeama, Olimpia, ou Condes.
Entre finais de 1967 e inícios de 1968, o Diário de Lisboa protagoniza outro momento-chave na cobertura jornalística do cinema – o início da crítica diária de cinema em Portugal. O investigador Paulo Cunha, que se tem focado na história do cinema português, chama-lhe num artigo que foi “a crítica que mudou a crítica de cinema na imprensa portuguesa”, não só porque foi a primeira vez que um jornal com projeção começou a fazer crítica de forma independente e isenta, mas pelo episódio que ainda lhe deu mais projeção.
Uma crítica negativa a um dos filmes em exibição num dos cinemas da Cineasso – que detinha o Alvalade, Éden, Estúdio, Império, Monumental e São Luiz – levou a que esta empresa se queixasse à direção do Diário de Lisboa a ameaçar anular toda a publicidade na rubrica Cartaz dos Cinemas. Quem tinham sido esses jovens a perturbar a crítica cinematográfica, até então uma espécie de review, como lhe chamaríamos hoje, quase publicidade indireta? Os jovens – que se tornariam grandes – Lauro António e Eduardo Prado Coelho – então com 25 e 23 anos.
A Direção do Diário de Lisboa não cedeu, a Cineasso tirou a publicidade durante algum tempo, mas, conta o investigador, o jornal ficou a ganhar no reconhecimento que já tinha no domínio da crítica cultural.
Muitos outros “primeiros” poderiam ser mencionados, noutras expressões artísticas: na música, a colaboração de Francince Benoît, sobretudo na crítica de ópera, bailado e temporadas sinfónicas durante 40 anos (entre as décadas de 1920 e 1960), ou o caso de Mário Vieira de Carvalho, um dos musicólogos mais importantes do país, que colaborou no Diário de Lisboa desde 1972 (a convite de José Saramago) até 1989. Não faltariam também histórias sobre Manuela Azevedo – a primeira mulher portuguesa a dedicar-se ao jornalismo profissionalmente – que trabalhou no Diário de Lisboa entre 1945 e 1958 e de onde saíram peças intemporais, como a entrevista a Ernest Hemingway, antes de ganhar o Nobel da Literatura.
Porém, o último lugar dos “primeiros” pertence a Mário Castrim (pseudónimo de Manuel Nunes da Fonseca), que inaugurou no Diário de Lisboa e no jornalismo português a crítica sobre televisão. Até então coordenador do Diário de Lisboa Juvenil, começou a fazer crónicas sobre televisão em 1965, numa altura em que este aparelho destronava a rádio e encantava os portugueses (pelo menos, os que a tinham).
Tornou-se assim o primeiro crítico televisivo português e escreveu diariamente sobre a RTP – a única estação televisiva – até 16 de maio de 1984, sob a rubrica TV dia-a-dia, através de um discurso pautado por ironia. Crítico assumido do Estado Novo, muitos dos seus textos foram censurados e os originais só foram conhecidos em 1996 no seu livro “Televisão e Censura”.
Uma investigação de José Lencastre, que analisou as crónicas de Mário Castrim publicadas entre 1969 e 1974, revela que há nelas uma “permanente inquietação perante o poder da televisão”. Castrim faleceu em 2002. O que diria este crítico hoje sobre o poder da Internet?
Esta crónica foi escrita no âmbito da colaboração entre o + Lisboa e o jornal Mensagem de Lisboa, onde foi também publicada, para o Especial 100 Anos do Diário de Lisboa.