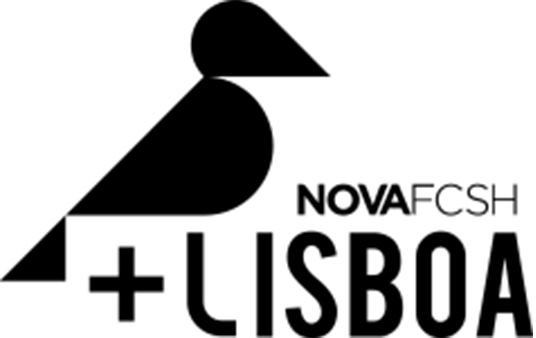As crises epidémicas de cólera e febre amarela provocaram, entre 1856 e 1857, a morte de seis mil lisboetas. O contágio atingiu zonas e grupos sociais normalmente poupados a epidemias, o que obrigou a cidade a agir.
Em plena vaga epidémica de 1857, um Congresso Sanitário organizado pela Academia das Ciências tentou perceber como é que Lisboa poderia proteger a sua população das epidemias. A Comissão eleita avaliou as mudanças resultantes do aumento dos habitantes, do assoreamento do rio Tejo e da própria evolução económica e chegou a uma conclusão: travar a epidemia significaria combater a insalubridade em que tinha mergulhado a capital.
Tal desafio implicava duas frentes: por um lado, melhorar as infra-estruturas que assegurassem as condições de higiene do território; por outro, reforçar a intervenção da polícia no controlo das atividades poluentes e do zelo das classes menos favorecidas.
A remoção das lamas da Boavista (de Alcântara à Ribeira Nova), considerada o foco principal de infeção, foi uma das obras necessárias, exemplifica Joana Cunha Leal, historiadora de arte da NOVA FCSH, neste artigo (2009), mas o diagnóstico “calamitoso” estendia-se ao parque residencial da capital: a pouca ventilação dos edifícios, as condições em que eram mantidas as pias de despejo e os saguões ou o incumprimento dos princípios básicos da higiene pública exigiam uma abordagem disruptiva.
Como? O futuro de Lisboa dependia da construção de uma cidade nova, explica a investigadora, através de uma lógica ensanche, isto é, de um planeamento urbanístico fora do centro. No entanto, a grave crise económica da segunda metade do século XIX e a pressão dos agentes da construção levaram ao insucesso desta estratégia e a cidade pombalina continuou a ser densificada. Só no final do século XIX a geografia da capital tomaria novas proporções.
Legenda da imagem: panorâmica da zona da Rocha do Conde de Óbidos, de onde foram removidas as “lamas da Boavista” (1901). Créditos: Arquivo Fotográfico de Lisboa.